Dona Maria Olímpia teve a única filha sozinha na casinha humilde no bairro do Grajaú. Nasci em 1932 e nunca conheci meu pai, a velha história de ir comprar cigarros e desaparecer para todo o sempre era comum na época, minha mãe já costurava para vizinhas e amigas e nem o resguardo a impediu de atender suas freguesas.
Minha mãe era miúda e agitada, trabalhava dia e noite sem parar. Fui criada ao pé da máquina de costura, adormecia com o barulho das agulhas e tesouras, despertava com o as trocas de medidas e ajustes. Ganhei muitos presentes das freguesas generosas, todas gostavam do trabalho da minha mãe que nunca atrasou um prazo ou perdeu uma costura.
Pretinha e pequenina toda vestida de branco eu era um sucesso cada vez que saía as compras ou a missa aos domingos:__ Filha de costureira, precisava dar o exemplo no capricho dos moldes. Esta boa desculpa me rendia os mais lindos vestidos e fitas.
Quando comecei a estudar na escola do bairro percebi que ser negra me excluía de muitas coisas boas, não fiz amizades nem fui convidada para as festinhas de aniverssário das coleguinhas. Minha mãe não podia comprar presentes nem bonecas nas lojas de brinquedos mas com as sobras das roupas fazia lindas bruxas de pano.
Eu fui uma menina muito tranquila e simples, tudo me alegrava. Vivíamos em uma vila de casas e a maioria dos moradores eram bem idosos, única criança, acabei ganhando muitos avós.
Acima de todos os objetos de costura do mundo maravilhoso dos tecidos finos eu era fascinada por botões. Lindos, de todos os tipos e formatos, pequeninos, pesados, de vidro, cristal, madrepérola ou forrados...botões.
Um freguesa trouxe uma lata de biscoitos vazia para que eu guardasse meus tesouros. Fiquei felicíssima, dava voltas rodopiando com a lata nos braços em uma valsa imaginária, feliz da vida esqueci a falta das festas e amiguinhas da escola, esqueci que era chamada de negrinha e que a carteira ao lado da minha sempre ficou vazia...esqueci até o dia dos pais que nunca comemorei.
Anos depois minha coleção de botões estava na terceira caixa, era o dia da minha formatura no Instituto de Educação, minha mãe só fazia chorar de alegria. Eu, a filha da costureira tirando diploma de professora era demais para sua simplicidade.
Houve cerimônia e recebi elogios pois fui uma das melhores alunas, sempre com média alta e bons trabalhos. Planejava prestar concurso público, trabalhar bastante e tirar mamãe da vida sacrificada que levávamos.
Após a formatura ganhei um bolo confeitado de uma freguesa para o lanche de comemoração. Muitos vizinhos e amigos apareceram para festejar trazendo pratinhos de doces e salgados. Estávamos felizes e eu usava o uniforme de normalista pela última vez.
Mamãe trouxe um pacote enfeitado com um laço vermelho tão lindo que senti pena de abrir, dentro uma finíssima caixa de madeira entalhada com meu nome e data:_ são para os seus botões minha filha.
Abraçadas sentimos que tudo seria diferente a partir daquele dia, a vida prometia muitas mudanças, havíamos vencido uma etapa importante. Todos ficaram comovidos com a felicidade de mamãe.
Coloquei minha coleção no aparador da sala para que todos admirassem meus botões. Incrível como Dona Maria sabia a história de vários deles:_olha Judith este dourado é da farda do Manoel, e este de ''rosinhas'' é do vestido de noiva da Filó e aquele outro é do vestidinho de batizado da neta da dona Ivone.
As vizinhas reconheciam seus botões e contavam histórias dos vestidos, bailes, noivados e recepções. Exatamente como eu havia imaginado durante toda minha infância.
O tempo passou, os anos voaram, fiz carreira e alcancei o cargo de diretora de escola. Casei e dei netos para Dona Maria Olímpia que nunca deixou de costurar. Já bem idosa e doente fazia roupinhas para orfanatos e enxoval para as mães pobres, tinha um coração iluminado e generoso.
Minha mãe. Após o enterro andei pela casinha vazia com o coração apertado de saudades. Abri janelas e cortinas , deixei o sol entrar. Após tantos anos encontrei minhas latas exatamente do jeito que deixei na velha saleta de costuras, a máquina antiga e o manequim de madeira ainda estavam lá, tudo limpinho e cuidado, como se estivessem esperando o momento de entrar mais uma vez na minha vida.
Num impulso espalhei todos os botões no chão e como um passe de mágica voltei aos meus tempos de menina, tocando meus botões e imaginando mil histórias...saudades do perfume de alfazema de mamãe e da sua voz cantando modinhas.
Do barulhinho da máquina de costura passando na seda...pequenos botões amados que fizeram parte da minha história, portadores de alegrias e distração. Mais uma vez cumpriam importante papel trazendo alento ao meu coração, botões, simples e pequeninos botões.












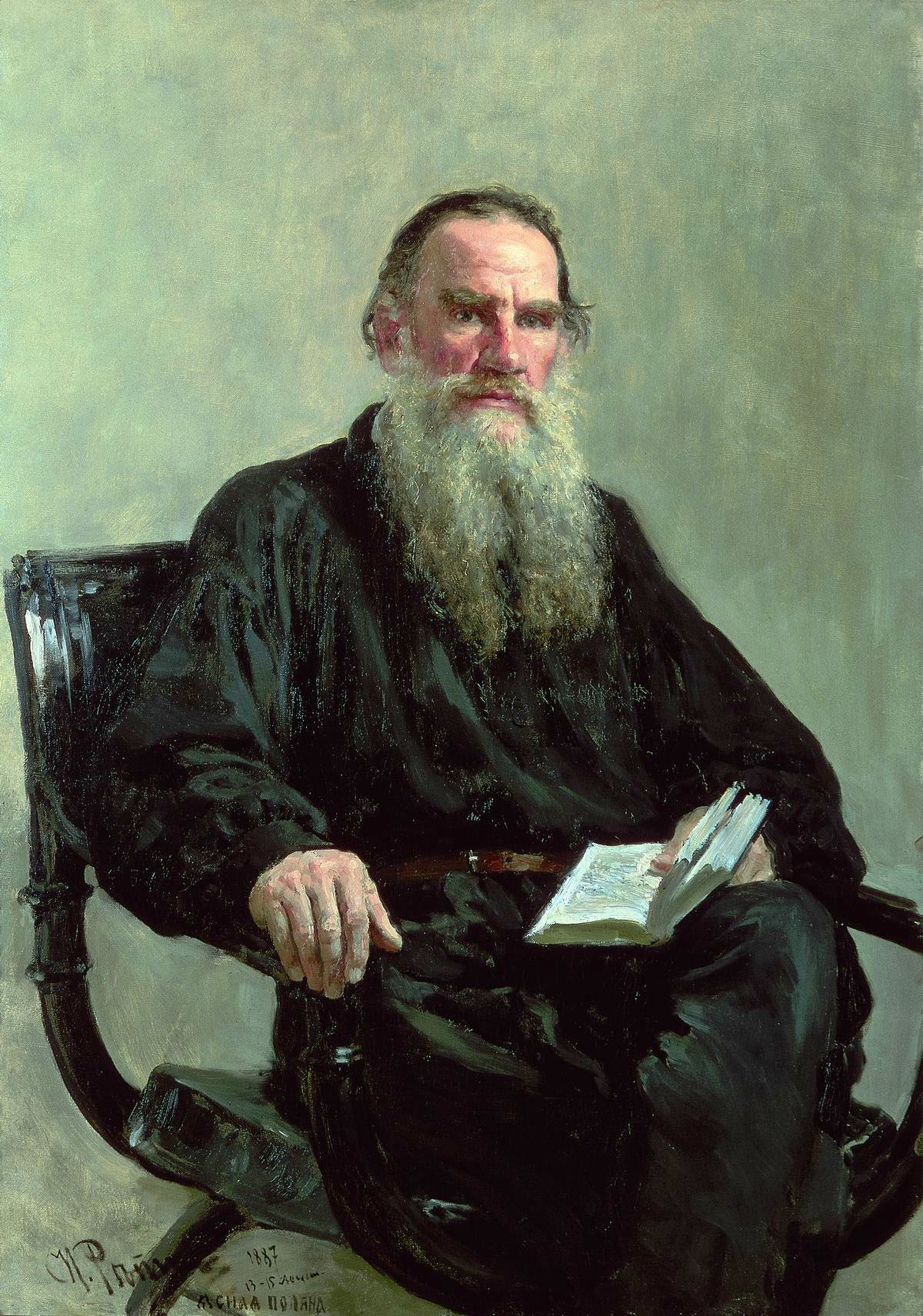









_1892.jpg)


