SAMIZDAT 33
Por que Samizdat?, Henry Alfred Bugalho
RECOMENDAÇÃO DE LEITURA
A Mulher da Areia, Edweine Loureiro
Ensaio sobre a Feiura, Edelson Nagues
Resenha do texto “Este mundo da injustiça globalizada”, Leonardo Araújo Oliveira
AUTOR EM LÍNGUA PORTUGUESA
Uma Cena Grega, Manuel Teixeira Gomes
CONTOS
O Intruso, Joaquim Bispo
Audácia, Rodrigo Domit
Diário Paulista, Maycon Batestin
Mulher de Verdade, Eduardo Moura
Aos Perdedores, as Cascas, Ramon Barbosa Franco
A Chuva, Gilson Mateus Damas
O Gato Pardo, Diogo Almeida
O Outro Lado do Espelho, Otávio Martins
Novíssimas de Bentinho Casmurro a seu Filho, Maria de Fátima Santos
Libertação, José Ronaldo Siqueira Mendes
TRADUÇÃO
Flores do Mal, Charles Baudelaire
TEORIA LITERÁRIA
O que ninguém lhe dirá numa oficina literária - parte 2 (A Publicação), Henry Alfred Bugalho
Quando é Crime Existir: a Representação do Feminino em Meia Culpa, Meia Própria Culpa, Tatiana Alves
CRÔNICA
Sexo Antes, Amor Depois, Thamires Lourenço
Nascido para a Chuva, Fabio Martins Moreira
Viajando com Charley, Luís Roberto Amabile
POESIA
O Tamanho de uma Cor, Bruno Gaudêncio
Não-Sim, Paulino Pereira Lima
Tiflose, Daniel Queissada
Taipas, Índios, Seca do meu Sertão, Eduardo de Almeira Rufino
O Último Beijo, Welington Mariano
Links para a SAMIZDAT 33
Scribd - http://www.scribd.com/doc/95148094/SAMIZDAT-33
Calaméo - http://en.calameo.com/books/000002238b3687a94aa36
Recanto das Letras - http://www.recantodasletras.com.br/e-livros/3694012
RECOMENDAÇÃO DE LEITURA
A Mulher da Areia, Edweine Loureiro
Ensaio sobre a Feiura, Edelson Nagues
Resenha do texto “Este mundo da injustiça globalizada”, Leonardo Araújo Oliveira
AUTOR EM LÍNGUA PORTUGUESA
Uma Cena Grega, Manuel Teixeira Gomes
CONTOS
O Intruso, Joaquim Bispo
Audácia, Rodrigo Domit
Diário Paulista, Maycon Batestin
Mulher de Verdade, Eduardo Moura
Aos Perdedores, as Cascas, Ramon Barbosa Franco
A Chuva, Gilson Mateus Damas
O Gato Pardo, Diogo Almeida
O Outro Lado do Espelho, Otávio Martins
Novíssimas de Bentinho Casmurro a seu Filho, Maria de Fátima Santos
Libertação, José Ronaldo Siqueira Mendes
TRADUÇÃO
Flores do Mal, Charles Baudelaire
TEORIA LITERÁRIA
O que ninguém lhe dirá numa oficina literária - parte 2 (A Publicação), Henry Alfred Bugalho
Quando é Crime Existir: a Representação do Feminino em Meia Culpa, Meia Própria Culpa, Tatiana Alves
CRÔNICA
Sexo Antes, Amor Depois, Thamires Lourenço
Nascido para a Chuva, Fabio Martins Moreira
Viajando com Charley, Luís Roberto Amabile
POESIA
O Tamanho de uma Cor, Bruno Gaudêncio
Não-Sim, Paulino Pereira Lima
Tiflose, Daniel Queissada
Taipas, Índios, Seca do meu Sertão, Eduardo de Almeira Rufino
O Último Beijo, Welington Mariano
Links para a SAMIZDAT 33
Scribd - http://www.scribd.com/doc/95148094/SAMIZDAT-33
Calaméo - http://en.calameo.com/books/000002238b3687a94aa36
Recanto das Letras - http://www.recantodasletras.com.br/e-livros/3694012











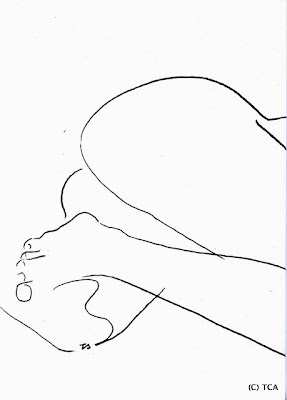



_1892.jpg)


