A sala enorme ficava debruçada sobre a rampa, sobre a rua, sobre uma zona ajardinada.
Uma sala com uma parede inteira em vidro transparente.
E, lá muito ao longe, via-se o casario da cidade.
E havia uma persiana.
Pregas esbranquiçadas que rolaram e taparam o vidro, e esconderam a rampa e a rua, e a zona ajardinada e o casario da cidade. Pregas que deslizaram devagarinho, e taparam também o sol intenso se bem que fosse já ao fim da tarde – a hora ela não pode saber ao certo, que nem tinha trazido relógio, e o que havia na sala de espera ficara exangue entre as duas e as três de um outro dia.
Ela não perguntou, e ninguém lhe disse.
Ninguém lhe disse mais que boa tarde e, num imperativo adocicado, que se sentasse:
– ali naquele banquinho.
Um banco em metal brilhante junto ao envidraçado.
Dava-lhe o sol em cheio antes de o homem ter corrido a persiana de alto a baixo.
E o coração dela a bater em descompasso, e Maria Irene a respirar em socalcos.
Estivesse a afogar-se em algum pego – água negra e profunda que nem poço – e não seria diferente aquele ficar-lhe o ar impedido e ela arfando, boca e narinas a latejarem num grito de socorro, e o ar apenas rondando. Tanto ar em volta e ela naquele desassossego. O ar deslizando-lhe para longe como que num jogo de esconde-esconde, e ela sentada muito quieta no tal banco, e os olhos, mais que tudo eram os olhos dela farejando. Maria Irene muda de receio e desconforto.
Ela à espera, e aqueles dois de um lado ao outro. Um homem e uma mulher azafamados:
Na sala o chão era de soalho. Ripas brilhantes. Um espanto que fosse chão desse. Antes deveria ser chão de ladrilhos, tijoleira ou outro de melhor asseio, pensou Maria Irene a disfarçar a aflição que lhe era meter algum ar nos pulmões. E nem que fosse disso a sua queixa, que ela tinha dito ao médico: acho que cresceu. Um caroço de nada sob a pele.
E depois tinha sido o autocarro, e o combóio e ainda o táxi.
O médico apalpou, viu e disse-lhe: tem que fazer esse exame.
Meia dúzia de pelos a nascerem-lhe, muito loiros no local do bigode, e os olhos azuis sem qualquer brilho. O médico insistira numa vozinha turva: tem que fazer esse exame ainda hoje! e tinha-se levantado assim como que a dizer-lhe: não me vai pedir que lhe explique pormenores. Mas não disse. Levantou-se apenas, e fez que ela se erguesse na cadeira forrada em napa cor de vinho. Uma cor a dizer bem com as flores do cortinado na janela do consultório. E o médico desejou-lhe boa tarde a entreabrir a porta, e ela não perguntou o que quer que fosse.
Ainda bebeu um chá gelado na pastelaria que ficava defronte, e depois seria o autocarro e o combóio, e finalmente o táxi, e só então Maria Irene subiria a rampa.
E ainda fazia sol quando se sentou naquele banco.
Seria por volta do meio-dia quando saíu do consultório.
– vamos para ali, disse-lhe o homem a simular o gesto de ampará-la.
O mesmo homem que lhe tinha dito:
– tire tudo e vista isto.
Uma bata de material viscoso, um azul transparente estendido num braço peludo. Para que vestisse. E esse mesmo homem disse-lhe, depois:
– relaxe, dona.
E pegava-lhe num braço, numa perna, no tornozelo, no pescoço.
Pegava-lhe no corpo todo como se fosse coisa.
E finalmente, seco e preciso:
– e agora fique assim quietinha!
E foi só então que ela perguntou, sumida:
– quanto tempo?
Duas horas, tinham-lhe respondido.
E Maria Irene jura que foi nesse preciso instante que a sala enorme ficou reduzida ao tamanho do seu corpo. Nada mais que ela e a janela envidraçada e o cortinado. Tudo concentrado no seu corpo muito quieto por força do exame. E nem que fosse um pego, água negra e funda, nem que fosse isso, seria mais profundo o sorvo que ela desse para inspirar o ar necessário.
E foi nesse instante que Maria Irene jura que no cortinado se abriu uma fresta que se foi alargando. O cortinado a abrir-se lento.
E ela quis gritar que o fechassem.
Ela a respirar em sorvos e um frio de inverno a descer-lhe pelo corpo.
E nem terá gritado.
Maria Irene há-de contar que o sol entrou e encandeou-a. Um sol de meio-dia e era fim de tarde. Ou não seria.
Ela quis correr a persiana, mas o que havia era um cortinado longo, flores cor de sangue ou cor de vinho num pano que corria do lado de fora da porta envidraçada. Nem pensar em chegar-lhe, dirá ela, e dirá que o pano esvoaçava destapando o vidro.
O pano erguido pelas mãos de um e outro que passava.
Que os mandassem embora, queria ela gritar e não podia.
Um desaforo eles ali olhando, uns atrás dos outros a espreitarem debaixo do cortinado.
E Maria Irene há-de jurar que eram muitos olhos espreitando, e que nem havia persiana e sim um pano. E dirá que também os olhos dela andavam a passear lá fora, e ela muito quietinha como tinham mandado:
– não se mexa, dona.
E tinham deixado acesa uma luz vermelha.
Uma única lâmpada do tamanho do dedo grande do pé direito de Maria Irene, que por nascimento é muito maior que o dedo grande do seu pé esquerdo.
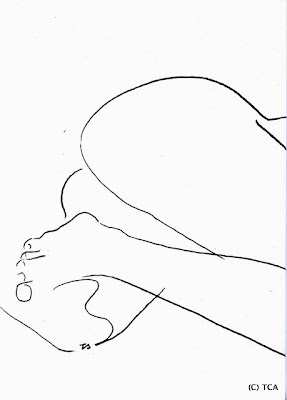
Oh
ResponderExcluir